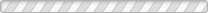Publicações - linguística, letras e artes
|
PEREIRA, LIVIA MENDES;
Brunno Vinicius Gonçalves Vieira
Palavra-chave:
Paulo Leminski;
Lawrence Ferlinghetti;
História da Tradução;
tradução poética;
Literatura Contemporânea
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Tradução;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Comparada
resumo ...
Resumo Os autores que Paulo Leminski escolheu traduzir foram em geral revolucionários em suas...
Resumo Os autores que Paulo Leminski escolheu traduzir foram em geral revolucionários em suas...
|
|
Antonio Augusto Nery
Colóquio. Letras,
v. 218,
n. 1,
p. 41-51,
2025
Palavra-chave:
Camilo Castelo Branco;
O sangue;
Religião;
Religiosidade
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria e Análise Lingüística;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Portuguesa;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Crítica Literária
resumo ...
|
|
Antonio Augusto Nery;
Eduardo Soczek Mendes
Palavra-chave:
Portugal;
Almeida Garrett;
Alexandre Herculano;
Eduardo Lourenço;
Forma Shandiana
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria e Análise Lingüística;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Portuguesa;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Crítica Literária
resumo ...
(en)
Almeida Garrett (1799-1854) and Alexandre Herculano (1810-1877) are the two main authors representing Romanticism in Portugal or, at least of the first generation, which is inevitably confused with the struggles for the implementation of Liberalism in the country. Contemporaries, they corresponded with each other and wrote fictional works, which aimed to consider the role of Portugal, as a national and also cultural body. In short, they reflected, through literary production, on the homeland situation after the French invasions (1807), the trauma of the flight from the Court to Brazil (1807), the Liberal Revolution (1820) and the Civil War (1828-1834) between absolutists and liberals, both of whom took sides with the constitutionalists and, finally, ended up in exile. Upon returning, Garrett and Herculano formed a group of intellectuals who aimed to reflect on the country's destiny, immersed in so many crises. Regarding his works, Eduardo Lourenço (1923-2020), honored in this year of his centenary of birth, wrote important texts, also in order to “rethink Portugal”, as he invented in the writings of the two 19th century writers ways of pondering the Portuguese political, religious and cultural situations. We therefore analyzed excerpts from four narratives by nineteenth-century authors: O Arco de Sant’Ana: crónica portuense (1845/1851) and Viagens na minha terra (1846), by Almeida Garrett; O Monge de Cister ou a época de D. João I (1848) and “O pároco da aldeia (1825)” (1851), by Alexandre Herculano. These are texts written in the Shandian narrative style, in which the narrators' digressions are what interest us most in this study. In addition to O labirinto da saudade (1978) and Mitologia da saudade seguido de Portugal como destino (1999), by Lourenço, we will dialogue, in our investigations, with the productions of Maria de Fátima Marinho (1999) and Sergio Paulo Rouanet (2007), among other authors.
(pt)
Almeida Garrett (1799-1854) e Alexandre Herculano (1810-1877) são os dois principais autores representantes do Romantismo em Portugal ou, pelo menos da primeira geração, que se confunde, inevitavelmente, com as lutas pela implantação do liberalismo no país. Contemporâneos, eles se corresponderam entre si e redigiram obras ficcionais, que visaram considerar sobre o papel de Portugal, como corpo nacional e também cultural. Em suma, refletiram, por meio da produção literária, sobre a situação pátria após as invasões francesas (1807), o trauma da fuga da Corte para o Brasil (1807), a Revolução Liberal (1820) e a Guerra Civil (1828-1834) entre absolutistas e liberais, da qual ambos tomaram partido pelos constitucionais e, por fim, chegaram a conhecer o exílio. Ao regressarem, Garrett e Herculano compuseram um grupo de intelectuais que visavam refletir sobre os destinos do país, imerso em tantas crises. Sobre suas obras, Eduardo Lourenço (1923-2020), homenageado neste ano de seu centenário de nascimento, redigiu importantes textos, também a fim de “repensar Portugal”, pois inventaria nos escritos dos dois escritores do século XIX formas de ponderar sobre as situações política, religiosa e cultural lusitanas. Analisamos, por isso, trechos de quatro narrativas dos autores oitocentistas: O Arco de Sant’Ana: crónica portuense (1845/1851) e Viagens na minha terra (1846), de Almeida Garrett; O Monge de Cister ou a época de D. João I (1848) e “O pároco da aldeia (1825)” (1851), de Alexandre Herculano. São textos escritos sob o estilo narrativo shandiano, nos quais as digressões dos narradores são o que mais nos interessam neste estudo. Para além de O labirinto da saudade (1978) e de Mitologia da saudade seguido de Portugal como destino (1999), de Lourenço, dialogaremos, em nossas averiguações, com as produções de Maria de Fátima Marinho (1999) e de Sergio Paulo Rouanet (2007), dentre outros autores.
|
|
Antonio Augusto Nery
Palavra-chave:
Camilo Castelo Branco;
A Freira que fazia chagas,e o Frade que fazia reis;
(Anti)clericalismo;
(Anti)religiosidade
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria e Análise Lingüística;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Portuguesa;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Crítica Literária
resumo ...
(en)
The collection of texts As virtudes antigas ou a freira que fazia chagas e o frade que fazia reis is made up of four narratives, the first two of which, the longest, give rise to the alternative name that appears in the title. The last two texts, respectively “A filha do Pasteleiro de Madrigal” and “Um poeta portugês…rico!”, are smaller and are in an appendix entitled “As virtudes antigas”. Having been published in 1868, the work forms the corpus of the research project “(Anti) clericalismo na obra de Camilo Castelo Branco” (CNPq), which I have been developing with the aim of understanding the form and content of clerical and anti-clerical discourses which are published intermittently in camilian fiction, focusing, in this first stage, on productions from the 1860s. In this work I will pay attention to the second narrative in the collection, “O frade que fazia reis”, in which the camilian narratee tells his version of friar’s story Miguel dos Santos (1537-1538 (?) – 1595), one of several individuals who forged the return of Dom Sebastião (1555-1578), after his disappearance in the Battle of Alcácer Quibir (1578). If in the first part of the story we have the narrator extolling the positive characteristics of the religious, from the moment in which the plans for fraud are revealed, the fierce criticisms of the friar’s behavior become explicit, making the narrative, in my opinion, constitutes an important example to understand the way in which Camilo deals with clericalism and anti-clericalism in this and other of his productions.
(pt)
A coletânea de textos As virtudes antigas ou a freira que fazia chagas e o frade que fazia reis é composta por quatro narrativas, sendo que as duas primeiras, as mais extensas, ensejam o nome alternativo que consta no título. Os dois últimos textos, respectivamente “A filha do pasteleiro de Madrigal” e “Um poeta português...rico!”, são menores e estão em um apêndice intitulado justamente “As virtudes Antigas”. Por ter sido publicada em 1868, a obra compõe o corpus do projeto de pesquisa “(Anti) clericalismo em obras de Camilo Castelo Branco” (CNPq), que venho desenvolvendo com o intuito de compreender a forma e o teor dos discursos clericais e anticlericais que são veiculados intermitentemente na ficção camiliana, focando, nesta primeira etapa, produções da década de 1860. Neste trabalho darei atenção à segunda narrativa da coletânea, “O frade que fazia reis”, em que o narrador camiliano relata sua versão da história de frade Miguel dos Santos (1537-1538 (?) – 1595), um dos diversos indivíduos que forjaram o retorno de Dom Sebastião (1555-1578), após o seu desaparecimento na Batalha de Alcácer Quibir (1578). Se na primeira parte do relato temos o narrador exaltando as características positivas do religioso, a partir do momento no qual os planos para a fraude são revelados, as críticas ferinas ao comportamento do frade explicitamse, fazendo com que a narrativa, a meu ver, constitua-se exemplo importante para se compreender o modo com que Camilo lida com o clericalismo e o anticlericalismo nessa e em outras de suas produções.
|
|
Antonio Augusto Nery
Palavra-chave:
Diabo;
Religiosidade popular portuguesa;
Cordel brasileiro
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria e Análise Lingüística;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Portuguesa;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Brasileira
resumo ...
|
|
Alan Santiago Norões Queiroz
Palavra-chave:
Júlio César;
personagem;
performatividade;
HIstoriografia;
narrativa
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria Literária
resumo ...
(en)
By featuring the dictator Gaius Julius Caesar in their respective works, historians Theodor Mommsen and Gaius Salustius Crispus used this Roman personality to convey an ideological message that had concrete objectives in the extra-literary world of each period — the former in the German 19th century, the latter in the Rome of the civil wars. To do so, they had to re-enact the past, describing characters, distributing lines, constructing scenes, creating narrative tension and turning points, as if the reader had direct access to the events of the past as they were happening. As this article shows in its analysis of the narrative performativity of the historiographical text, the authors managed to unite the particularities of the Roman general with the diegetic needs of the plot created, transforming him into the synthesis of the values that their present had lost and that it needed to overcome the most immediate political impasses, that is, a society seen as decadent, with a degenerate elite dominating a state made up of corrupt institutions.
(pt)
Ao figurar o ditador Caio Júlio César em suas respectivas obras, os historiadores Theodor Mommsen e Caio Salústio Crispo se utilizaram dessa personalidade romana para veicular uma mensagem ideológica que tinha objetivos concretos no mundo extraliterário de cada uma das épocas — o primeiro no século XIX alemão; o segundo na Roma das guerras civis. Para tanto, precisaram reencenar o passado, caracterizando personagens, distribuindo falas, construindo cenas, criando tensão narrativa e pontos de virada, como se o leitor tivesse acesso direto aos fatos de antes no instante em que transcorriam. Como este artigo mostra na análise da performatividade narrativa do texto historiográfico, os autores conseguiram unir as particularidades do general romano às necessidades diegéticas da trama criada, transformando-o na síntese dos valores que o presente deles havia perdido e de que carecia para superar os impasses políticos mais imediatos, isto é, uma sociedade vista como decadente, com uma elite degenerada dominando um Estado composto de instituições corrompidas.
|
|
Antonio Augusto Nery;
Gilberto Carlos Pereira
Palavra-chave:
Eça de Queirós;
A cidade e as serras;
indumentária;
Acessórios
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Teoria e Análise Lingüística;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Portuguesa;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Crítica Literária
resumo ...
(en)
The objective of this work is to propose preliminary reflections on how clothing is an important element to consider in understanding A cidade e as aerras (1901), a novel by Portuguese writer Eça de Queirós (1845-1900), especially in terms of refers to the figuration of the protagonist character, Jacinto, and the composition of the social criticism carried out by the narrator/character, José Fernandes. Before proceeding to the literary analysis itself, we will seek to outline the main characteristics of 19th century bourgeois society, with regard to its relationship with appearance, the social division expressed by clothes and the existence of two spaces in the construction of this society: the public and private. To do so, we will use the reflections developed by Erich Hobsbawn in A era do Capital (2007) and Richard Sennett in O declínio do homem público. As tiranias da intimidade (2002).
(pt)
O objetivo deste trabalho é propor reflexões preliminares acerca de como a indumentária é um elemento importante a se considerar para a compreensão de A cidade e as serras (1901), romance do escritor português Eça de Queirós (1845-1900), especialmente no que se refere à figuração da personagem protagonista, Jacinto, e da composição da crítica social realizada pelo narrador/personagem, José Fernandes. Antes de procedermos à análise literária propriamente dita, buscaremos traçar as principais características da sociedade burguesa do século XIX, no que diz respeito à sua relação com a aparência, a divisão social expressa pelas roupas e a existência de dois espaços na construção dessa sociedade: o público e o privado. Para tanto, nos serviremos das reflexões desenvolvidas por Erich Hobsbawn em A era do capital (2007) e Richard Sennett em O declínio do homem público. As tiranias da intimidade (2002).
|
|
GABRIEL DE OLIVEIRA, LAYLA;
Alison Roberto Gonçalves
Palavra-chave:
educação bilíngue;
bilinguísmo;
crencas
resumo ...
(pt)
Este estudo teve como objetivo investigar as crenças sobre o bilinguismo que compõem o imaginário social do professor da educação bilíngue de elite em Curitiba (PR), a partir dos resultados de uma pesquisa qualitativa-interpretativista, realizada com duas profissionais da educação bilíngue da cidade. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas para gerar os dados e, então, categorias de análise foram definidas. A partir dos resultados, foram discutidas as crenças sobre o que significa ser bilíngue, sobre conceitos de língua e sobre práticas pedagógicas no contexto da educação bilíngue. Entre os principais achados do estudo, nota-se a prevalência de uma visão monolítica do bilinguismo, como dois sistemas monolíngues independentes. Esta visão também influencia sua prática pedagógica, que prioriza a instrução na L2 em imersão, sem o uso da L1. Suas visões de língua estão atreladas à uma compreensão utilitária de língua para a comunicação, ao mesmo tempo que contemplam as dimensões históricas e culturais que compõem a língua que ensinam.
|
|
COLASANTO, FRANCISCO;
Daniel Eduardo Quaranta
Palavra-chave:
entrevista;
Música contemporânea;
Criação Musical;
Música Latino Americana
resumo ...
|
|
Brunno Vinicius Gonçalves Vieira
Palavra-chave:
Maria Firmina dos Reis;
Manuel Odorico Mendes;
Literatura afro-brasileira;
Recepção da Literatura Clássica;
História da Tradução
Áreas do conhecimento:
Linguística, Letras e Artes; Letras; Literatura Comparada;
Linguística, Letras e Artes; Letras; Tradução
resumo ...
(en)
This paper provides an overview of the literary context of São Luís do Maranhão, called “Brazilian Athens”, from the beginning of the 19th century until the publication of Úrsula (1859). After this early definition of this space of Brazilian literature and translation of foreign literature, the article seeks to identify some stylistic and thematic patterns used by Maria Firmina dos Reis, establishing approximations about the origin of the diction we found in the novel, as well as about the contradiction that the female author has constructed in order to reinvent literary and linguistic intertexts in the horizon of the critique she makes about patriarchal society and slavery system. We also investigate the silencing of Maria Firmina dos Reis and Úrsula, especially in their immediate context. Although the afro-brazilian female author artfully handles the erudite stylistics of her time, her exclusion from the literary scene reveals how colonial ideologies still dominate and reveals the real validity of Enlightenment educational and cultural ideals in the period.
(pt)
O artigo oferece um panorama do contexto literário de São Luís do Maranhão, a “Athenas Brazileira”, desde o início do séc. XIX até a publicação de Úrsula (1859). A partir da delimitação desse espaço de literatura brasileira e de tradução de literatura estrangeira, procura-se identificar alguns modelos estilísticos e temáticos com os quais Maria Firmina dos Reis dialoga, estabelecendo aproximações sobre a origem da dicção produzida no romance, bem como sobre a contradição (ou contradicção) que a autora constrói a fim de reinventar seus intertextos no horizonte de sua crítica à sociedade patriarcal e ao sistema escravocrata. Investiga-se, também, o silenciamento sobre Maria Firmina dos Reis e sobre Úrsula, especialmente no seu contexto imediato. Embora a autora maneje artificiosa o erudito veio estilístico de seu tempo, a sua exclusão do meio literário revela as ideologias coloniais ainda dominantes e coloca em xeque a real vigência de ideais educativos e culturais iluministas no período.
|